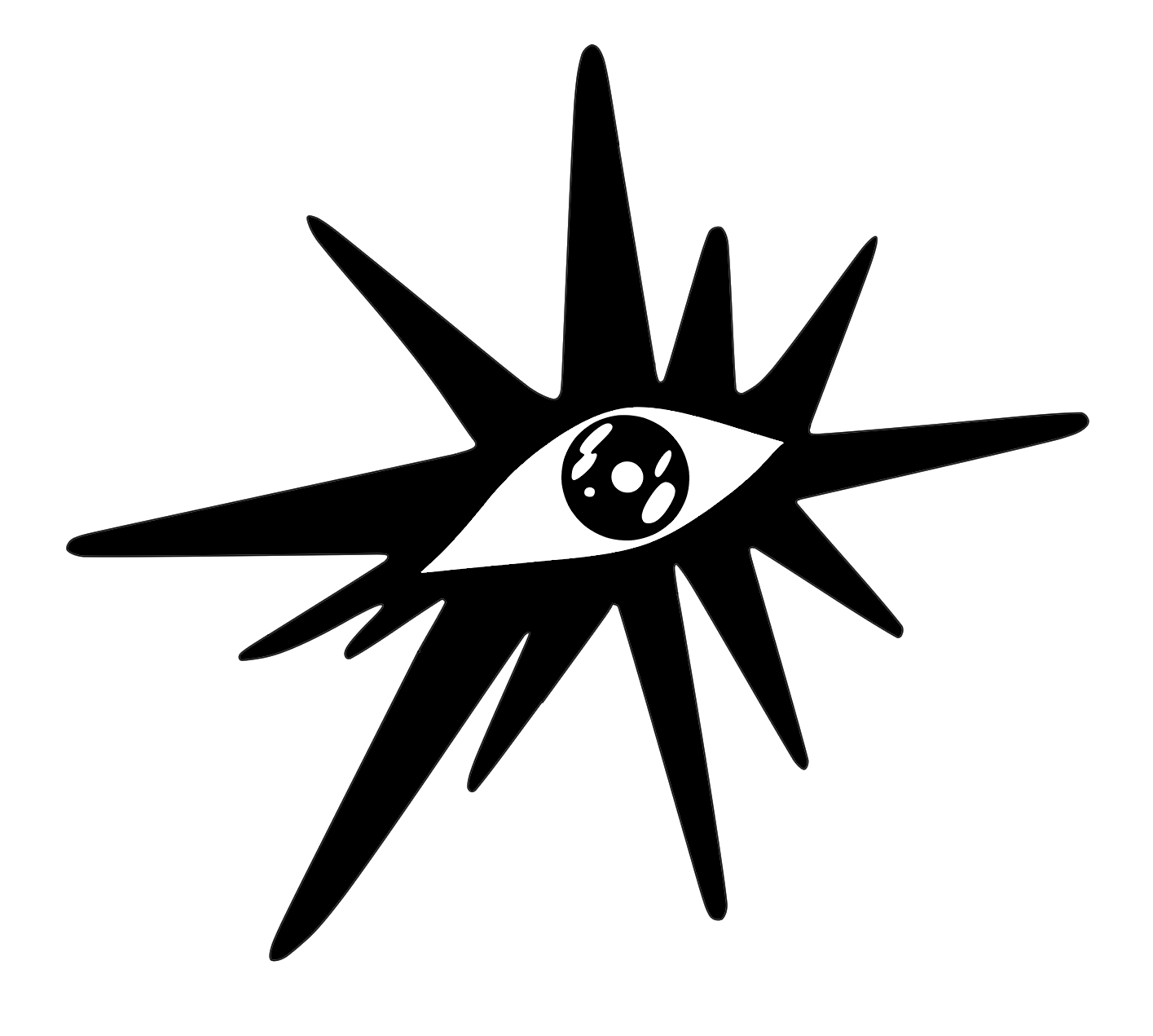
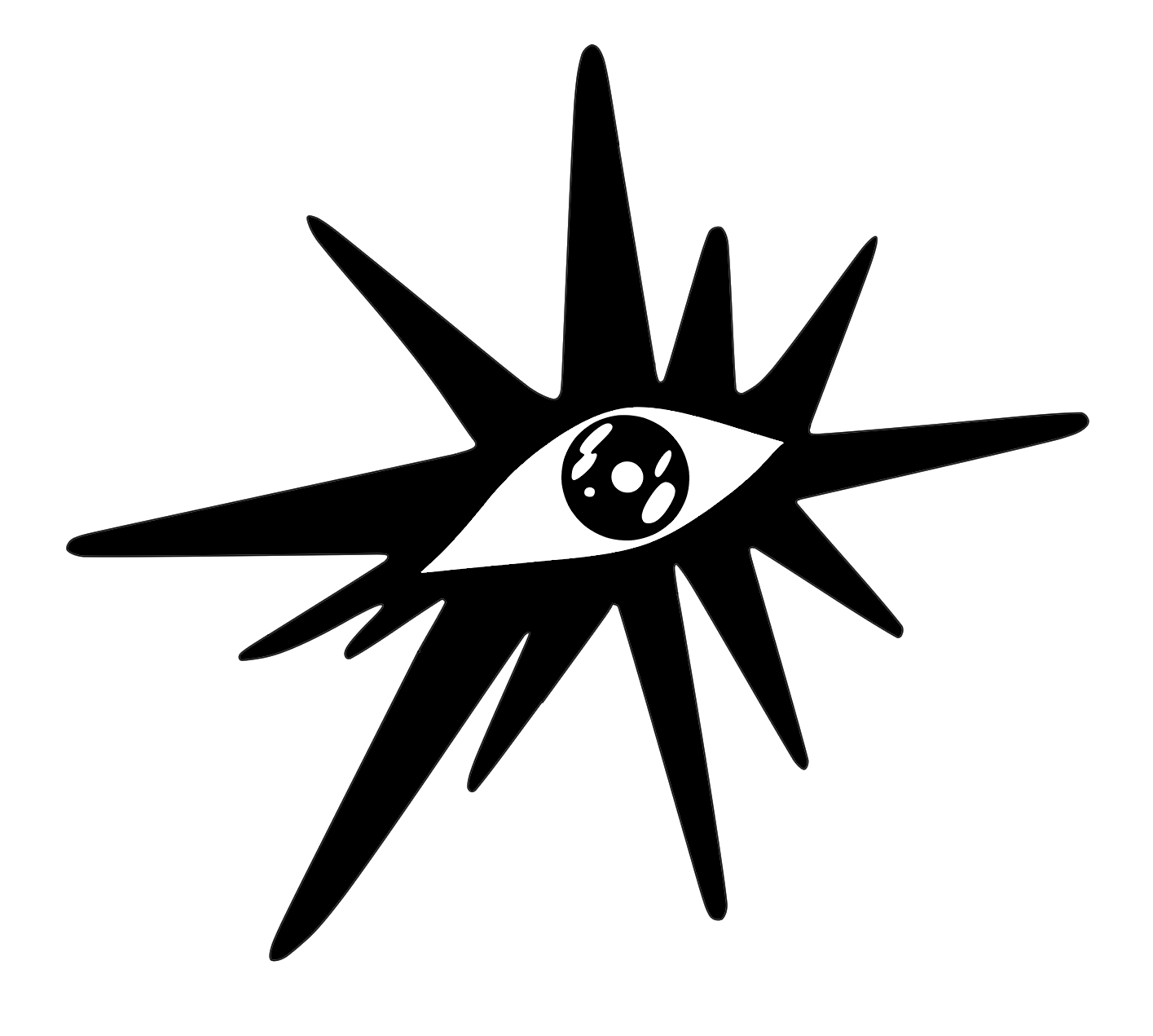

LÍNGUAS DESATADAS
(1989, dir. Marlon Riggs)
69 anos antes do lançamento de Línguas Desatadas, o primeiro documentário foi lançado: Nanook, o esquimó, de Robert Flaherty. Mesmo que ele seja conhecido principalmente por ser o pioneiro do gênero, outras duas coisas são bem reconhecidas da sua produção: o primeiro documentário teve que ser gravado duas vezes e ele é, na verdade, uma ficção.
Após ter jogado as cinzas de um cigarro perto demais dos rolos negativos de filme a base de nitrato, o diretor decidiu por voltar a região dos inuítes para regravar todo o projeto. Assim, Robert decidiu por, ao invés de falar sobre o povo como um todo (que era a ideia inicial), ele deveria se dedicar a filmar uma pessoa, sua rotina e família.
Nanook é o personagem principal, ele aparece com suas duas esposas e caça da mesma forma que seus ancestrais caçavam. Mas ele não tinha esse nome, não era casado com as duas mulheres que aparecem no filme e muito menos caçava como seus ancestrais: seu nome real era Allakariallak e a sua caça não era mais só com uma lança, mas sim com armas de fogo.
Trago esse caso pra pensar sobre um tópico sensível da história do Cinema, que é a representação do outro. Desde o primeiro documentário, há um tipo de problema entre a ideia de representar o outro e como a gente o imagina previamente. Tanto em quesitos de ficção e não-ficção, podemos pensar em produções e obras que traçaram uma linha que divide quem sou o ‘eu’, que está com a câmera, a narrativa e a montagem do filme, e o ‘outro’, o personagem, o objeto que está sendo filmado.
Me parece que Línguas Desatadas herda a identidade do outro e decide por explorar os limites das fronteiras entre cada grupo: “What is he first? A black or a gay?”(O que ele é primeiro? Um negro ou um gay?). Mas, em meio a uma “confusão” de aparências e identidades (seja aqueles que ainda não se entenderam ou aqueles que não entendem os outros), o diretor, produtor, narrador e “personagem principal”, Marlon Riggs, mostra que os outros também amam.
Num contexto particularmente desolador que as comunidades e movimentos negros e LGBTQIAPN+ viveram, onde as epidemias de Aids/HIV e de crack fizeram com que esse grupos fossem cada vez mais excluídos e marginalizados, o diretor fala sobre ele mesmo, sobre a comunidade, sobre tantas coisas de forma tão enfatica, ansiosa, raivosa e apaixonada como se ele não pudesse desperdiçar nenhum segundo, nenhum plano, nenhum decibel, como se ele não tivesse certeza de que ele conseguiria outra oportunidade de estar nesse lugar, de ter autonomia sobre a propria existência. Mas tem outra coisa que o Riggs faz que é ainda mais potente: ele abre espaço no seu projeto para que seus amigos, parceiros e todos aqueles que estão do seu lado sendo silenciados e invisibilizados possam se expressar.
Mesmo que o filme tenha me lembrado muito das discussões sobre a relação ‘outro’ e ‘eu’, acredito que, ao tomar somente essa perspectiva, uma conclusão se torna inevitável: todo e qualquer elemento desse documentário existe por causa, em relação e em resposta ao status quo. Por mais que essa visão trate sobre a ideia de resistência e de ser reativo à repressão, acredito que ela tira uma autonomia essencial e existencial da expressão desses grupos. Falando especificamente sobre esse filme, por mais “redonda” que a afirmação de que a linguagem e o experimentalismo dele é um contraponto a uma hegemonia narrativa silenciadora, isso tira o mérito criativo e autônomo do diretor e da comunidade.
Não quero, com isso, negar a experiência, a identidade e os atos de resistência à opressão. Uma das ideias mais impactantes trazidas é a de que a identidade seria imposta: os brancos não veem os negros como semelhantes; os héteros não veem os queers como semelhantes; a comunidade negra hétero não vê homens negros gays como semelhantes. Negar a questão da identidade seria negar a realidade.
Mesmo assim, me parece que um anseio do Marlon Riggs seria superar essas divisões e esse debate ao reivindicar lutas da comunidade negra e queer, ao mesmo tempo, colocando, ao final do documentário, dois homens negros se amando, seguido por uma série de obituários de pessoas mortas pela Aids/HIV, de figuras importantes da história como a Harriet Tubman, Frederick Douglass, Bayard Rustin e Martin Luther King, enquanto a seguinte fala é proferida: “Escuto minha própria implosão silenciosa enquanto espero, os ritmos mais antigos e mais fortes ressoam em mim, sustentam meu espírito, silenciam o relógio. / Nós marchamos com Selma!”.

Em uma das primeiras cenas do filme, aparece o símbolo do grupo Silence=Death Project, que, em 87, criou um cartaz sobre a conscientização da Aids/HIV com um triângulo rosa e o texto “SILENCE=DEATH” num fundo preto. Carregar o triângulo rosa ao invés de colocar a foto de alguma pessoa vítima do vírus se deu pela exclusão que usar um exemplo geraria. Assim, carregar o legado daqueles que foram perseguidos pelos nazistas honra aqueles que vieram antes e escancara a continuidade de atos repressivos contra os “dissidentes” de sexualidade e gênero.
O silêncio toma forma como o principal inimigo a ser combatido. Ao invés de personalizar o inimigo (mas sem deixar de dar nomes àqueles que inviabilizam e diminuem a comunidade negra queer), o ato de silenciar aparece permeado na sociedade e o ato de estar em silêncio parece de formas variadas, desde um medo consciente e inconsciente, uma imposição, uma forma de segurança, algo que se internalizou, um elefante na sala: “O silêncio é meu escudo. Oprime. / O silêncio é minha máscara. Sufoca. / O silêncio é minha espada. Tem dois gumes. / O silêncio é a arma mais mortal. / Que herança há no silêncio? Quantas vidas perdidas…”.
Tecnicamente falando, acho muito curioso como grande parte do documentário se passa num ambiente fechado, quantas vezes as cenas nas ruas não carregam o som delas, como se, mesmo que aquelas pessoas estejam lá, elas estão segregadas. Essa paisagem sonora percebida enquanto silenciosa possue ruídos e tiques que acabaram ficando no fundo sem chamar a atenção daqueles mais desavisados e alheios a comunidade, mas que aqueles que estão silenciados percebem: uma panela de pressão chiando no fundo preste a implodir.
O melhor que eu posso fazer para falar sobre amor como ferramenta revolucionária de desilenciamento é trazer a fala do Marlon Riggs que termina o documentário:
Qualquer que seja meu destino, eu sei de uma coisa: não via a beleza de meu irmão; agora, vejo a minha. Estava surdo às vozes que diziam que merecíamos desejarmo-nos, amarmo-nos. Agora, ouço. Estava mudo, com a língua amarrada, dominada pela sombra e o silêncio. Agora, falo. E meu fardo foi iluminado, erguido, estou livre.
Homens negros amam homens negros, eis um ato revolucionário. Poemas lidos por… Sobreviverá aos demais, ou dançará num ritmo diferente? Mãe, pai, filho ou filha, todos são os mesmos. Você pode fazer o que quiser…
De irmão para irmão: Homens negros amam homens negros, uma chamada para a ação. Uma chamada para a ação, um reconhecimento de responsabilidade. Podemos cuidar de nossos semelhantes nas noites frias e mudas. Ultimamente, as noites são a sangue frio, e o silêncio faz eco com cumplicidade.