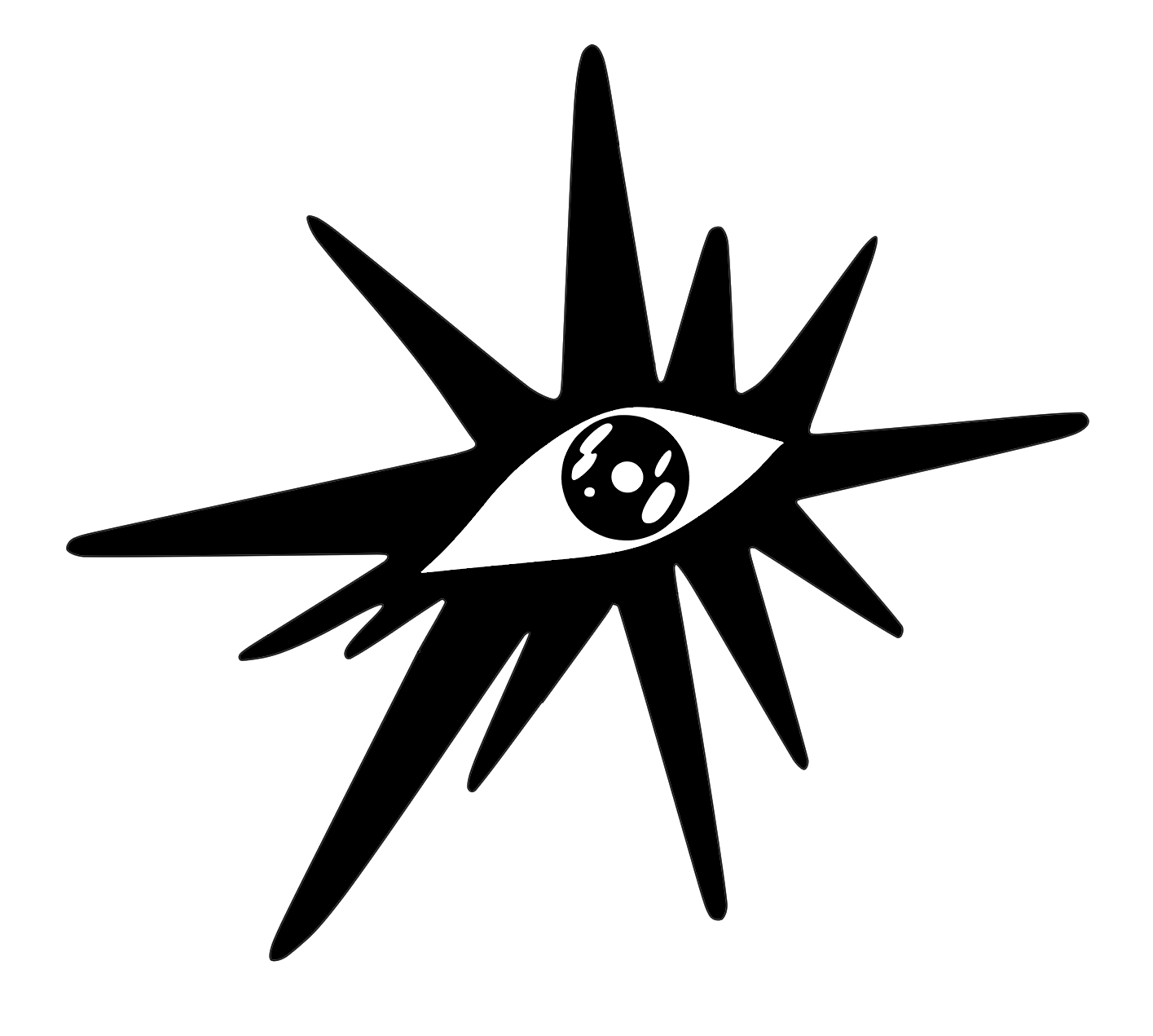
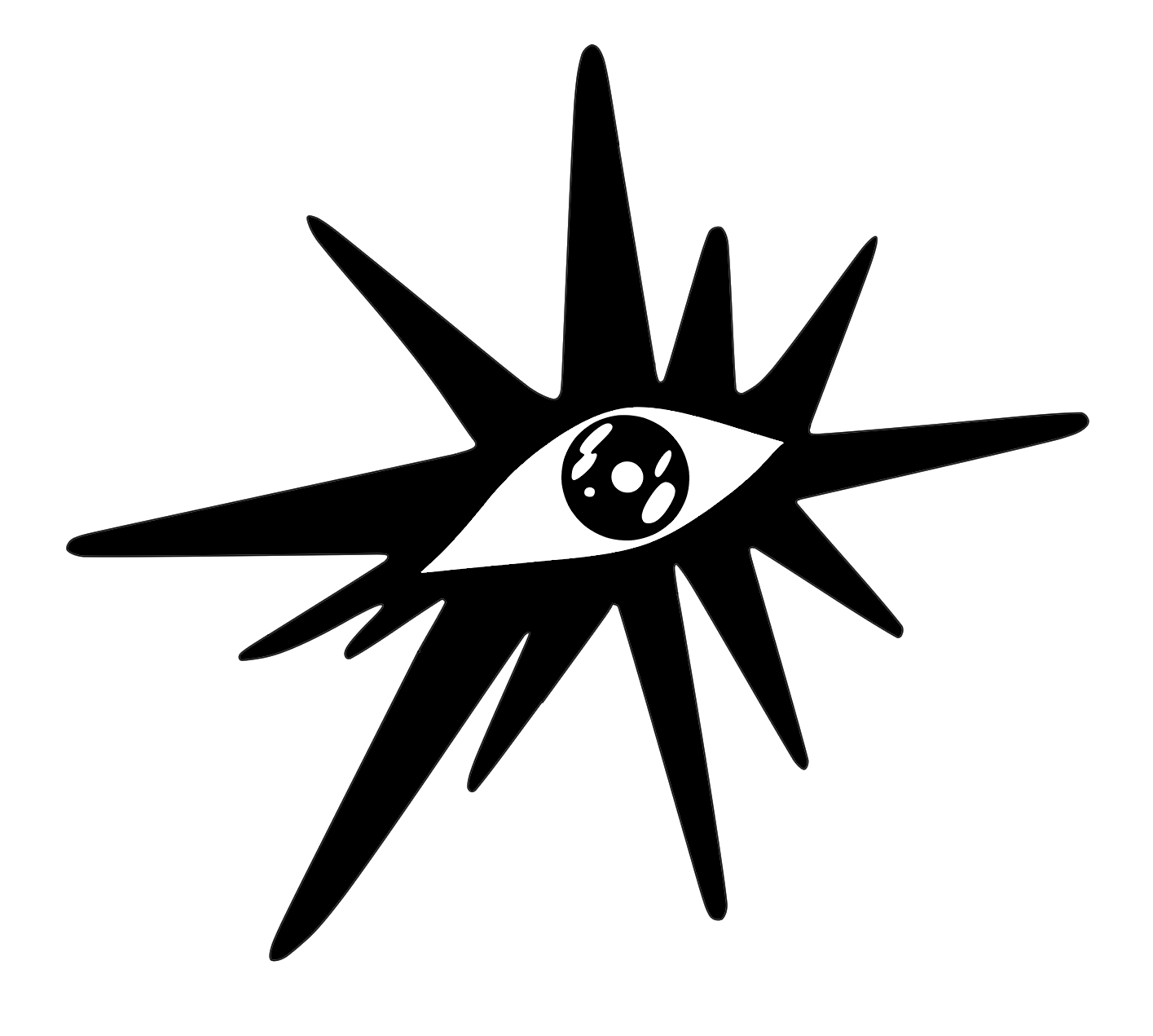

O FUNERAL DAS ROSAS
(1969, dir. Toshio Matsumoto)
Das tantas e diversificadas críticas que li acerca do filme, algo que rapidamente me incomodou foi o pouco ou a pequena importância que foi dada à temática LGBT retratada no longa, mais especificamente uma experiência Trans.
Muito se diz sobre assistirmos a uma adaptação moderna do mito grego de Édipo-Rei, de Sófocles, autor que viveu em meados do século V antes de Cristo (a.C), no apogeu das escritas gregas que viriam a ser os mitos mais conhecidos do período antigo. Nessa tragédia, Édipo, um filho da realeza, abandona sua família por conta de uma profecia que dizia que ele acabaria por matar o seu pai e se casaria com sua própria mãe. Essa desventura acaba por se realizar e nesse processo traumático, se acaba por se arrancar os seus próprios olhos.
Também muito se discute sobre como esse filme entra para o período da A Nouvelle Vague Japonesa (ou Nūberu bāgu), marcada por filmes que vem na esteira do conturbado período do “pós-pós”, pós as bombas-nucleares de Hiroshima e Nagasaki fundadoras de um trauma coletivo e “pós-Boom! Econômico”. Os milhares e milhares de dólares norte-americanos investidos na reconstrução do país já não incentivam tanto a economia quanto antes, o que criou um cenário de incertezas econômicas para a juventude que, agora radicalizada, busca as ruas para resolver os seus problemas.
Essas são dimensões que, embora sejam essenciais para o filme, não serão abordadas por mim. Entretanto deixo minhas recomendações às críticas da ABRACCINE por Ivonete Pinto, “A energia e a liberdade de O Funeral das Rosas” e o texto de David Pinheiro Barros da Universidade de Porto, “Édipos, Sísifos e Onis: Reescrita de mitos em Matsumoto, Teshigahara e Shindô”.
O que desejo fazer aqui é, através dos elementos retratados em O Funeral das Rosas, buscar entender o que é essa experiência transexual vivenciada no Japão do final dos anos 60 por Eddie e por suas amigas, fugindo de um essencialismo e uma categorização clara, pois isso é algo que nem o filme se preocupa em fazer.
No filme acompanhamos Eddie (Peter), uma linda mulher trans que trabalha como prostituta na noite de Tokyo em um “bar gay” chamado “Genet”, administrado por outra mulher trans, “Mama-san” ou Leda (Osamu Ogasawara), que vê em sua funcionaria uma rival por conta de sua beleza. conflito entre as duas se intensifica por conta de Eddie ter um relacionamento secreto com Jimi (Yoshiji Jo), amante de Leda que, posteriormente, é revelado tratar-se do pai de Eddie.
Aqui já temos um dos elementos que quero chamar atenção, o conflito, mas mais abrangente que isso, a violência abordada no filme tem dois aspectos: comédia e tragédia. Isso vem de uma experiência comum para todos os corpos LGBTQIAPN+ e dissidentes, essas cenas que abordam a violência de gênero através de micro-agressões. É o que ocorre no trecho em que um homem faz algo análogo a assédio com Eddie no início do filme, ou nos momentos na rua que Eddie e suas amigas, outras transexuais, passeiam por um shopping e pelas ruas da capital com todos os transeuntes as observando(e julgando) por conta de suas expressões de gênero. Essa situação culmina no fatídico momento que uma gangue de mulheres (cis) as ataca chamando de “Okama” (Um termo pejorativo para mulheres trans que não exatamente tem uma tradução para o português, mas seria algo entre Traveco e Viados).
Só que essas cenas de conflito mais direto, aqui incluo até a de Eddie vs Leda (um barracão diga-se de passagem), são subvertidas para serem gravadas como algo cômico (com direito a musiquinha e tudo). Isso as coloca em um patamar de quase pouca importância para o contexto violento dessas passagens, como se essas violências cotidianas não lhes impedissem de serem felizes. Por outro lado, o que é retratado com violência gráfica e explícita é a relação de Eddie com sua família: ora com sua mãe, quando a sangue frio a assassina; ora com seu pai, quando, por desconforto, ao descobrir que transou com sua própria filha, ele se suicida, o que para mim reforça a máxima de que pessoas LGBTQIAPN+ sentem uma dor completamente diferente quando o preconceito e a negligência é oriunda de seus próprios familiares.
Outro aspecto do filme a ser ponderado nessa análise de experiências de transfeminilidades é como a nomenclatura é pouquíssimo relevante para o desenvolvimento da narrativa. Não existe nenhuma preocupação formal de encontrar um único jeito de chamar esses indivíduos e isso não vem de um lugar essencialmente preconceituoso, mas sim de um desconhecimento geral da (nova) expressão de gênero. Essa temática é aprofundada no conflito entre Leda e Eddie: se por um lado Leda é extremamente conservadora em sua vestimenta, representando um tipo de performance do feminino (e talvez da experiência trans) muito conhecida no japão. Essa performance é a onnagata, na qual homens jovens de feições delicadas são conhecidos por interpretar papéis feminino no teatro kabuki (tradicional e milenar arte cênica japonesa), onde usam roupa e maquiagem no estilo Gueixa e que longe dos palcos trabalhavam como prostitutas.
Por outro lado, Eddie e suas jovens amigas seriam a representação de uma nova geração da transfeminilidade ligadas aos anseios de uma juventude transgressora que vê seu cotidiano ser ocidentalizado. Isso fica expresso no campo estético, na forma de vestir e se maquiar. Esse aspecto da diferença entre o arcaico e o moderno é novamente provado quando assistimos às entrevistas que entrecortam o filme, nas quais elas se chamam das mais diversas formas, como transsexuais e “gays”, notando que não existia exatamente um consenso no que elas estavam fazendo, sendo precursoras nessa nova experiência transfeminina.
Contudo, essas duas formas de transfeminilidades, tradicionais e modernas, são colocadas no mesmo lugar nessa sociedade: às margens, servindo de submissão ao patriarcado e o machismo, que é representado no amante de Leda e Eddie, que em última análise, é um homem que usa das duas mulheres para seu prazer.
Por fim, ao não se limitar a uma categoria própria e um único gênero, pensando aqui nos múltiplos significantes de gênero, o filme também fala sobre si próprio, pois desliza entre um gênero e outro: documentário experimental, comédia pastelona e melodrama. Desta forma, ao optar por mescla de gêneros cinematográficos não apenas transgride em convenções normativas como nos permite vivenciar diferentes aspectos que compõem essa vivência transfeminina.
Nossa vida então não pode ser reduzida apenas a violência, a dor, a caricatura ou a denúncia. É justamente na inconstância e confluências que reside a potencialidade. Ao apostar nisso, o filme afirma que nem o gênero, seja ele identidade ou fílmico, é fixo. Nem a experiência trans é unidimensional. Em vez disso, tudo flui e é nesse fluxo que reside a potência política, estética, revolucionária e transgressora que é ser uma mulher trans, no Japão, no Brasil e em qualquer lugar do mundo.